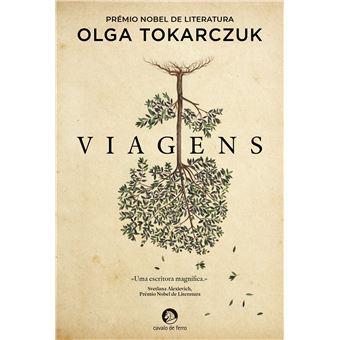“Peter Dieter arrastava as pernas e olhava para as pedras, para os arbustos de roseira brava onde já rebentavam botões. Parava a cada dúzia de metros, respirando com dificuldade. Nessas ocasiões, observava as folhas, os caules e os cogumelos de pés finos que lentamente consumiam as árvores derrubadas.
Primeiramente, o caminho seguia por entre pousios e, depois, entrava numa floresta de abetos. Quando a floresta chegou ao fim, Peter tinha atrás das suas costas o pa- norama das montanhas que, até ali, carregara dentro de si. Olhou para trás apenas uma vez, porque teve medo de destruir aquela vista com o seu próprio olhar, tal como os selos valiosos perdem a cor e o padrão quando são manuseados com muita frequência. Só parou na crista da montanha, deu uma volta completa, saciando-se com a vista, bebendo-a aos goles. Tinha o costume de comparar todas as montanhas do mundo com aquelas montanhas e nenhuma lhe parecia tão bonita como aquelas. Ou eram grandes demais, maciças demais, discretas demais, ou, ainda, demasiado selvagens e escuras, densamente arborizadas como a Floresta Negra, ou demasiado domesticadas e arranjadas, abertas como as dos Pirenéus. Sacou da máquina fotográfica e registou o que avistava. Clique – a aldeia de casas dispersas. Clique – as florestas escuras de abetos, repletas de sombras negras. Clique – o fiozinho do riacho. Clique – os campos de colza amarelos no lado checo. Clique o céu. Clique as nuvens. Sentiu, então, que mal conseguia respirar, que estava quase a sufocar.
Avançou, subindo a montanha, e alcançou um trilho turístico; uns jovens de mochila que por ali passavam cumprimentaram-no, estava ele a limpar o suor que lhe inundava os olhos, e continuaram o seu percurso. Na verdade, teve pena que eles se tivessem ido embora. Poderia contar-lhes que costumava andar por ali, quando era da idade deles, que, mais abaixo, sobre musgo húmido, fizera amor pela primeira vez com uma mulher ou, então, mostrar-lhes onde dantes ficava o moinho de vento dos Olbricht, que se fazia ouvir em toda a aldeia com os seus braços abertos. Pensou até em chamá-los, mas estava sem fôlego. O coração batia-lhe forte na garganta e sufocava-o. Regressar agora seria desperdiçar a ocasião; por isso, com grande esforço, caminhou mais umas centenas de metros e alcançou o topo da montanha, onde justamente passava a fronteira. Avistou ao longe os postos fronteiriços caiados de branco. Perdeu completamente o fôlego; pelos vistos, o ar rarefeito há muito esquecido não lhe fazia bem. Esquecera-se de que podia ser perigoso para os pulmões, que tinham, entretanto, aprendido a respirar a brisa húmida do mar.
Sentiu-se mal, quando já imaginava o caminho de regresso. «O que aconteceria se eu morresse aqui», pensou, cambaleando até aos marcos da fronteira. Pareceu-lhe engraçado, vá-se lá saber porquê. Subir uma encosta até ao topo, chegar ali depois de ter atravessado meia Europa, de ter vivido tantos anos numa cidade portuária, de ter gerado dois filhos, construído uma casa, amado, sobrevivido a uma guerra. Riu-se de si para si e tirou um chocolate do bolso. Fez uma pausa e desembrulhou o chocolate do papel de prata com cuidado, mas, quando o levou à boca, já sabia que não iria engoli-lo. O seu corpo estava ocupado com outra coisa. O coração contava o ritmo, as artérias folgavam, o cérebro produzia o narcótico de uma santa morte. Peter sentou-se, encostado ao marco da fronteira com o chocolate na boca, enquanto o círculo distante do horizonte conduzia lentamente o seu olhar. Tinha uma perna na República Checa e outra na Polónia. Ali ficou sentado cerca de uma hora, morrendo segundo após segundo. No fim, pensou ainda em Erika, que estava à espera dele lá em baixo no automóvel e certamente já estaria preocupada. Talvez até já tivesse telefonado para a polícia. Naquele momento, porém, também ela lhe parecia térrea, marítima e irreal. Como se ele tivesse sonhado a noite inteira. E não soube sequer quando morreu, porque tal não aconteceu imediatamente mas devagar, devagarinho, como se tudo nele ruísse.
Os guardas da fronteira checos encontraram-no ao entardecer. Um deles ainda tentou encontrar o pulso de Peter e outro, mais novo, olhou assustado para o fio de chocolate castanho que escorria da boca para o pescoço. O primeiro pegou no rádio e olhou inquisitivamente para o segundo e ambos olharam para o relógio. Hesitaram. Devem ter pensado no relatório que teriam de escrever e no jantar, para o qual se atrasariam. E, depois, agindo na mais completa conivência, empurraram a perna de Peter do lado checo para o lado polaco. Mas tal não lhes bastou, acabaram por transferir todo o corpo de Peter para norte, para a Polónia. E, com sentimentos de culpa, afastaram-se em silêncio.
Meia hora mais tarde, Peter foi encontrado pelas luzes das lanternas dos guardas da fronteira polacos. Um deles exclamou «Credo!» e saltou para o lado. O outro pegou na arma instintivamente e olhou em redor. Reinava um grande silêncio, as cidades dos vales pareciam pratinhas de chocolate deitadas fora, nas quais as estrelas se reflectiam. Os polacos olharam para o rosto de Peter e murmuraram qualquer coisa entre si. Depois, num silêncio solene, pegaram nele pelos braços e pelas pernas e transportaram-no para o lado checo.
E também foi assim que Peter Dieter lembrou a sua morte, antes de a alma partir para sempre como um movimento mecânico, de ida e volta, de um lado para outro, como quem oscila numa borda, como quem está de pé sobre uma ponte. E, no fundo, a última imagem que surgiu no seu cérebro sonolento foi a recordação do presépio de Albendorf com as suas figuras de madeira em movimento, numa paisagem pintada a cores, deslocando-se por acção de um mecanismo oculto. Figuras de madeira que caminhavam, figuras que perseguiam vacas de madeira, cães de madeira que corriam, um homem com um riso de madeira, mais acima uma figura que carregava baldes e acenava com a mão, o céu pintado trespassado por um fumo pintado, as aves pintadas a voar para ocidente. E dois pares de soldadinhos de madeira que transportavam o corpo de Peter Dieter de um lado para outro, para a eternidade.”
excerto do livro “Casa de Dia, Casa de Noite”, Olga Tokarczuk (2021). Tradução do polaco Teresa Fernandes Swiatki. Cavalo de Ferro Pp115-119 (ed.or. 1998)